Apresentação
Este estudo tem como ponto de partida a transformação da interrogação do título em uma hipótese, que deverá se constituir em uma das hipóteses básicas para o processo de formulação e execução de uma política de ordenamento territorial. Intentar-se-á demonstrar que o sonho, além de possível, é necessário para o êxito das iniciativas no campo do ordenamento territorial.
O estudo tentará, também, articular os pressupostos do desenvolvimento econômico local e regional com os princípios do processo de ordenamento territorial, entendido este como a formulação de uma política especializada e a aplicação de instrumentos específicos para alcançar o objetivo de promover uma ocupação territorial sustentável.
Também tentará esclarecer como os parâmetros de ordenamento territorial poderiam nortear as ações estratégicas do planejamento do desenvolvimento local e regional, e como os parâmetros deste poderiam balizar as ações daquele. Longe de pretender esgotar o assunto, os objetivos do estudo são explicitar a problemática, trazendo à tona os elementos de cada uma das abordagens, estabelecer comparações que permitam identificar os pontos de convergência e de divergência entre elas e esclarecer quando os elementos de uma abordagem se transformam em instrumentos da outra, em uma relação de complementaridade na consecução das políticas de desenvolvimento nacional, porém, a partir de bases locais, em que, por um processo de interação, as partes, de fato, se integrem contribuindo e recebendo contribuições do todo.
1. Introdução
No início da colonização do Brasil, no século XVI, como resposta da economia colonial ao desenvolvimento econômico metropolitano europeu, a ocupação do território ocorreu ao longo de costa, determinando um padrão territorial que foi evoluindo com o tempo. À medida que a economia brasileira se desenvolvia atrelada à economia metropolitana européia, os seus centros dinâmicos foram se deslocando pelo território. Assim, no início do período colonial, quando a cana de açúcar era o principal produto, o centro politicamente hegemônico se localizava na Região Nordeste, precisamente na cidade de Salvador, no estado da Bahia. Quando, no século XVIII, o principal fator econômico deixa de ser a cana de açúcar e passa a ser a mineração de ouro, na então denominada Região das “Gerais”, no atual estado de Minas Gerais, o centro hegemônico se transfere para a cidade do Rio de Janeiro. É a partir daí que se consolida a ocupação do interior do país, em um avanço por fases, em função das etapas pelas quais vai passando a economia mundial.
Deve-se ressaltar que, mesmo nos primórdios da colonização, ocorrem penetrações em direção ao interior do Brasil. No ciclo da cana de açúcar, há um processo de interiorização na Região Nordeste, sobre tudo na direção do estado do Piauí, com a criação de bovinos, destinados às áreas de cultivo da cana. Dado o caráter de monocultura extensiva especializada da cana de açúcar. Desse modo, as áreas da cultura da cana, onde toda terra disponível era dedicada ao plantio, tornaram-se dependentes de outras para o suprimento de suas necessidades.
No século XVII, a partir da Região Sudeste, existem intentos de penetrações para o interior, em busca de metais e pedras preciosas e, também, em busca de mão de obra, tendo por alvo os índios catequizados das missões jesuíticas no extremo sul do país. Estes eram aprisionados e destinados para as plantações de cana de açúcar das áreas do Nordeste que não estavam ocupadas pelos holandeses. Como estes também controlavam as fontes de escravos africanos, impediam que estes fossem comercializados para as áreas rivais.
Porém, tais intentos de penetração interiorana não resultaram em um processo de ocupação imediato do espaço central brasileiro. Foi na costa brasileira que se estabeleceram os assentamentos humanos definitivos que evoluíram e se transformaram em cidades.
A expansão do espaço ocupado no Brasil ocorre entre o final do século XIX e início do século XX, atrelada aos desenvolvimentos pelos quais passa a economia mundial, configurando o atual quadro de ocupação e uso do território, que teve por base a estrutura territorial ao largo da orla, onde existia um padrão de ocupação territorial e um padrão de uso do território consolidados.
Atualmente, a partir de uma perspectiva territorial a situação que se apresenta é de uma grande desigualdade demográfica. Na costa brasileira há um forte adensamento de população, esta é quase inexistente ao norte do rio Amazonas e pouco adensada entre o sul do estado da Bahia e o estado do Espírito Santo.
A penetração demográfica brasileira se caracteriza por um sentido leste-oeste. Na Região Nordeste, a orla é estreita e a população se concentra no litoral, tornando-se rarefeita à medida que se segue para o interior. Na Região Sudeste e na Região Sul, a densidade segue pronunciada quando se avança para o interior, mantendo-se até as fronteiras internacionais do Brasil. No entanto, deve-se ressaltar que isso não significa que o território seja plenamente vazio, mas sim que os níveis de densidade humana e de concentração territorial são baixos e dispersos.
O resultado da evolução histórica brasileira resultou em uma configuração espacial, caracterizada por uma estrutura urbana diferenciada. Os centros urbanos brasileiros se distribuem segundo tamanho, funções que exercem e articulações entre eles, determinando regiões de influência, de acordo com o seu respectivo nível dentro na hierarquia urbana que se constituiu no país. O resultado da inserção da economia brasileira no contexto mundial implicou na atualização dos parques produtivos de alguns pontos do território, em detrimento, praticamente, do restante do conjunto do território nacional.
2. A configuração territorial do brasil no início do século vinte
Em seus esforços para garantir sua sobrevivência, o Homem está em permanente interação com o meio ambiente, isto é, ele atua sobre o território, entendido este como a base sobre a qual o conjunto da humanidade se apóia. Essa base é composta por vias de penetração e barreiras naturais, pelas diferenciações e articulações possíveis, impostas pelas características físicas, e pelas atrações e repulsões por elas causadas. Mas este suporte físico não deve ser reduzido apenas aos seus atributos naturais, devendo-se reconhecer sobre ele, e juntamente com ele, a presença, a permanência e a estabilidade dos frutos decorrentes da civilização, que confere ao espaço um caráter estabilizador em meio à fluidez das relações entre os diferentes povos. Nesse esforço, o Homem imprime à base física, sobre qual se apóia, certas configurações que conduzem a determinados padrões de ocupação e uso territorial. E tal esforço a partir de um processo de interação entre o homem, organizado em sociedade, e a natureza, constitui-se na essência do processo de desenvolvimento.
O desenvolvimento não é um fenômeno que surge e se manifesta ao mesmo tempo em todas as partes, mas sim em pontos esparsos do território, com intensidade e periodicidade variáveis. A inserção da economia brasileira na economia mundial fez com que o território brasileiro se organizasse em uma configuração de padrões de ocupação e uso, cujas tendências de transformações resultam da dinâmica com que se dá a articulação interna e externa dos diversos pontos do território, obedecendo ao deslocamento dos centros hegemônicos que refletem o próprio processo de desenvolvimento do país.
2.1 O sistema urbano do Brasil
O processo histórico de desenvolvimento do Brasil, desde os primórdios de sua colonização até o momento recente, (final do século XX e início do século XXI), passando por todos os episódios de sua historia, se caracteriza por profundas transformações, como a apertura aos mercados externos, a desregulamentação da economia, a privatização, a globalização e a descentralização. Esse processo resultou em um padrão territorial formado por uma ampla rede de cidades de nível médio e cidades que integram áreas metropolitanas (conforme pode ser visto no Mapa-1). Esta constatação baseia-se no levantamento Regiões de Influência das Cidades, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (ver IBGE, 1993), que aponta para a existência de 141 centros urbanos de centralidade média. Como neste estudo serão considerados somente aqueles que não integram as Regiões Metropolitanas, será levado em conta um total de 134 centros médios. Isso porque os que se localizam em uma área metropolitana já se encontram sob uma influência superior, de uma área que exerce uma dominação maior ao espaço circundante. Em que pesem eventuais críticas pelo fato do estudo ser do ano de 1993, pode-se argumentar que os fenômenos dos quais ele trata, tendem a apresentar estabilidade ao longo do tempo, e os padrões dos centros urbanos, em um período de médio prazo, não irão se reverter muito fortemente. (Posteriormente à realização deste estudo, o IBGE publicou a atualização daquele levantamento).
As cidades médias estão articuladas minimamente entre si e com as áreas metropolitanas, pelo menos, as que se encontram próximas umas das outras, constituindo uma real rede urbana. Porém, essas cidades não estão isoladas das demais, pois as cidades com nível de centralidade mais baixo se articulam diretamente, e de forma mais intensa, com os centros médios ao redor dos quais gravitam, constituindo verdadeiros sistemas urbanos de centralidade média. Tais sistemas urbanos, recordemos, são compostos por uma cidade com nível de centralidade médio, cercada de cidades com níveis de centralidade menores, contíguas umas das outras. Em muitos casos também os próprios sistemas urbanos são contíguos entre si. Como pode ser visto (Mapa-1), a totalidade do território nacional do Brasil está recoberto por esses sistemas urbanos.
Porém, os sistemas urbanos detêm processos com dinâmicas próprias, que além de reforçarem determinadas tendências, como concentração demográfica e dinamismo econômico, também induzem a tais processos. Dentre estes processos, dois merecem destaque. O primeiro processo é o demográfico e o segundo, o econômico. Se, de fato, o processo de ordenamento territorial busca colocar em movimento forças para tentar alterar a atual padrão de distribuição da população e das atividades produtiva no território e as tendências de ocupação espacial, é necessário ter-se uma idéia de como estas se dão no presente momento (ver Derycke, 1983).
Mapa 1: Sistemas urbanos de centralidade média
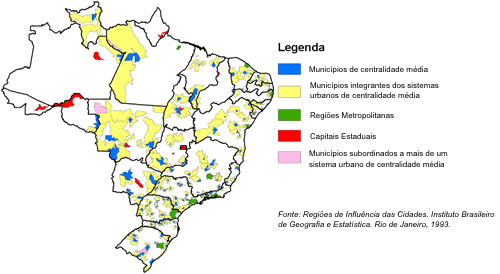
2.2 As Tipologias Territoriais Demográficas dos municípios do Brasil
A população se revela importante, na medida em que pressiona a base de recursos naturais. Mas, o faz de forma diferenciada em função de seu tamanho e das habilidades de seus membros. E a capacidade de resposta da base de recursos naturais também determina a forma e o grau de interação homem-natureza.
Deste modo, para os fins do presente estudo, o mais relevante é a dimensão da base social sobre a base natural. Nenhuma das duas é homogênea ao longo e ao largo do território, mas os recursos se caracterizam por sua imobilidade, enquanto a população é móvel e, por conseguinte, variável. Assim, as pressões humanas sobre a base de recursos naturais, nem sempre são constantes, dependendo do peso da massa humana sobre ela. Por isso, o mais significativo é a dimensão da base humana e como esta se encontra estruturada sobre um determinado território.
A forma e a estrutura da população como sociedade organizada ocupando um determinado território, não é algo que ocorre de um momento para outro, mas é o produto de processos sociais e econômicos complexos, cuja indagação sobre como se dão extrapola os limites deste estudo. É suficiente, por agora, aceitar por hipótese que a população se estrutura em um território, de forma quase irreversível, ao longo do tempo, enquanto sua forma e composição se cristalizam. Deste modo, é razoável estimar os graus e níveis de variação da população entre o período compreendido entre dois censos demográficos, que corresponde a dez anos. Podemos supor que nesse intervalo os fenômenos demográficos foram se cristalizando e assumindo características estruturais, cuja reversão duraria, pelo menos, outro período inter censitário
Com isto, o primeiro indicador que será estabelecido, terá por base una análise comparativa da evolução da população dos municípios de todas as Unidades Federadas que integram o Brasil. Os aspectos, que mais de perto interessam aos objetivos deste estudo são a distinção entre população urbana e rural, além do próprio volume da população total por município.
Inicialmente, consideremos a população total, pelo peso que reapresenta e pressão que exerce sobre um território. Ela não é uma totalidade homogênea, mas se caracteriza pela composição segundo as idades, os gêneros, as habilidades, etc. Porém, para os propósitos presentes, a divisão mais significativa da população total de um território é a grande divisão entre população rural e população urbana. A ênfase nesta divisão se justifica pelos diferentes graus de pressão que são exercidos sobre os recursos naturais de um território, em função de duas características, seja da população urbana, seja da rural: a característica da primeira é a sua concentração, enquanto a da segunda, a sua dispersão. Isso tem diferentes conseqüências para a base física territorial. A população urbana exerce uma pressão intensiva sobre uma determinada
parcela do espaço físico. A população rural, por sua vez, exerce uma pressão extensiva sobre o restante do espaço físico. A população urbana utiliza uma parcela pequena do território, sobre a qual recai um volume de população intenso, enquanto que a população rural utiliza uma grande parcela de todo o território, exercendo uma pressão ampliada sobre a totalidade da área territorial.
À medida que a população urbana cresce, áreas naturais se convertem em áreas urbanas, na quais os recursos naturais são sobrepujados pela massa populacional. Este processo de transformação do espaço natural em espaço construído denomina-se antropização, que se refere às modificações provocadas pelo Homem no meio ambiente. Na verdade, o que é relevante na transformação do espaço natural em espaço urbano, é que este assume um caráter irreversível, cristalizando-se em espaço construído. Levando em conta os dois últimos censos demográficos para o Brasil (ver IBGE, 1991 e 2000), se constata que, no âmbito dos municípios brasileiros, há alguns padrões presentes pela totalidade do território (ver Mapa-2).
Mapa 2: Tipologia territorial demográfica 1991 – 2000
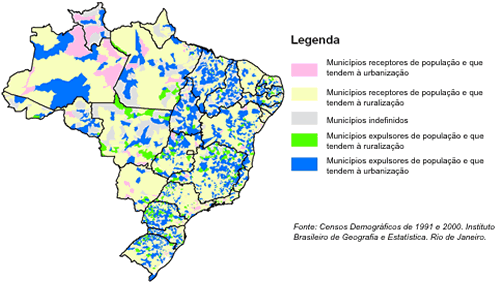
Se considerarmos as variações da população total e da população urbana entre os dois censos demográficos, se verifica que, basicamente, houve dois movimentos, tanto da população total, quanto da população urbana. Tanto uma quanto a outra apresentaram três possibilidades de ocorrência no período considerado: cresceram, decresceram ou se mantiveram nulas, isto é, não cresceram nem decresceram. O importante foi o fato de a população total haver crescido mais ou menos que a população urbana, ou ter ocorrido o inverso, isto é, de haver decrescido mais ou menos que ela.
Do crescimento da população total, pode-se concluir que os municípios onde isso se manifestou se caracterizam por serem receptores de populações. O mesmo pode ser deduzido do crescimento da população urbana, ou seja, se tratam de municípios que receberam população, mas como a população urbana cresceu no período intercensitário, então se trata de municípios que tendem à urbanização. Com isso, temos uma primeira caracterização demográfica do território, do ponto de vista do que se passa nos municípios, que se expressa em uma tipologia territorial demográfica denominada receptores de população com tendência à urbanização.
Porém, mesmo que a população total de um município tenha crescido no período intercensitário, caracterizando uma situação de recepção de população, pode ser que a população urbana decresça no mesmo período. Ou seja, a população total cresceu, mas a população urbana decresceu, o que equivale ao crescimento da população rural. E neste caso estamos diante da segunda tipologia territorial demográfica, denominada receptores de população com tendência à “ruralização”.
Podem ocorrer casos de municípios nos quais a população total diminui e a população urbana também diminui, sem que isso ocorra com a população rural. Ou seja, a população rural segue seu curso, e neste caso, estamos diante da terceira tipologia territorial demográfica, do tipo expulsores de população com tendência à “ruralização”.
Ao invés do crescimento da população total dos municípios, pode ocorrer a situação de um decréscimo da população total no mesmo período, ou seja, a população total diminui, o que caracteriza uma situação de expulsão de população. Mas pode acontecer que, mesmo em casos como esse, a população urbana cresça, caracterizando uma situação de tendência à urbanização. Combinadas as duas tendências, de expulsão de população e de urbanização, resulta a quarta tipologia territorial demográfica do tipo expulsor de população com tendência à urbanização.
Restaria uma topologia a ser considerada, na qual se encontram poucos municípios. São situações que não estão claras, denominadas Indefinidas. São consideradas indefinidas porque, apresentaram variações nulas no período intercensitário, por falta de dados, ou ainda por se tratarem de municípios novos, criados depois de 1991, para os quais não dispomos de informações para o ano inicial, o que torna indeterminado o exercício para tais municípios.
Constata-se que, de todas as tipologias territoriais demográficas, a de menor incidência no território é a dos municípios receptores de população com tendência à urbanização. As tipologias predominantes no território são a dos municípios receptores de população com tendência à “ruralização” e a dos municípios expulsores de população com tendência à urbanização.
Ao se pretende desenvolver um conjunto de ações para reorganizar a distribuição das atividades produtivas e da população no território, estas tendências devem ser levadas em conta. Não se pretende preconizar deslocamentos arbitrários de população, mas sim estabelecer condições e incentivos ao desenvolvimento de atividades e criar oportunidades de ocupação alternativas às atualmente existentes, de maneira que, a médio e longo prazo, os padrões de ocupação e uso territorial se apresentem diferentes dos padrões atuais. Entretanto, deve-se levar em conta as características e tendências demográficas dos municípios na forma apresentada, para propor estratégias adequadas a cada uma das distintas realidades. Como pode ser visto (Mapa-2), não há um predomínio exclusivo de uma tipologia territorial demográfica, nem a presença acentuada de uma delas em alguma parte determinada do território, porém, a dispersão de todas ao longo e ao largo do território brasileiro.
2.3 As Tipologias Estrutural-Diferenciais da economia dos municípios do Brasil
Mesmo sendo dinâmica, a base econômica apresenta fatores de estabilidade. O que mais nos interessa, são os resultados das atividades produtivas como um todo. Assim, consideramos os Valores Adicionados dos Setores que compõem o Produto Interno Bruto Municipal, disponíveis pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, para todos os anos desde 1999, e para todos os municípios brasileiros. Este estudo foi realizado com as estimativas do Produto Interno Bruto Municipal para o ano de 1999, o primeiro ano para o qual elas estão disponíveis, e de 2003, último ano para o qual tais informações estavam disponíveis, quando ele foi realizado (atualmente estão disponíveis informações do Produto Interno Bruto Municipal para os anos seguintes).
O Produto Interno Bruto Municipal é composto pela soma do Valor Adicionado do Setor Agropecuário, do Valor Adicionado do Setor Industrial, do Valor Adicionado do Setor Comercio e Serviços, do Valor Adicionado do Setor Administração Pública, pelo valor dos Impostos e subtraído o valor da variável Dummy Financeira, que expressa as transferências financeiras entre os municípios.
Como o que, de fato, nos interessa aqui é o que ocorreu em termos reais, ou seja, quais foram as variações reais de produção que ocorreram nos diversos setores, a análise foi realizada tendo por base as variações nos Valores Adicionados dos respectivos Setores, de forma agregada (e não do Produto Interno Bruto de cada um dos municípios brasileiros). Isso se justifica, uma vez que estamos buscando as variações reais de cada um dos setores de atividades, e suas relações com a base de recursos naturais, explorada pelo homem organizado em sociedade, neste caso, expresso pela população, distribuída pelo território, na forma de complexos conglomerados de pessoas e atividades a que denominamos municípios, que não são entes homogêneos e com as mesmas dimensões, mas sim, diferenciados e caracterizados pelas funções que desempenham e segundo a extensão do alcance de sua área de influência.
A análise foi realizada pela comparação da economia de cada município com a economia brasileira. A dinâmica econômica de cada um dos municípios foi comparada com a dinâmica da economia nacional como um todo. Isto porque todos eles estão integrados ao contexto nacional, de tal forma que a dinâmica interna de cada município obedece a lógicas e determinações da economia nacional. Além do mais, a finalidade é o estabelecimento de comparações de dinamismos econômicos com os padrões atuais de ocupação e uso territorial e suas tendências, e o papel que pode desempenhar o processo de planejamento estratégico do desenvolvimento econômico local e regional, em um esforço mais amplo de lograr a manutenção dos padrões e tendências considerados desejáveis e alterar os indesejáveis, a partir da perspectiva dos princípios e diretrizes para uma política de ordenamento territorial.
Por meio da aplicação do método estrutural-diferencial (ver Boisier, 1980) aos Valores Adicionados dos setores Agropecuário, Industrial e de Comércio e Serviços, entre os anos de 1999 e de 2003, os municípios brasileiros são classificados em seis tipologias estrutural-diferenciais (ver Mapa-3). As três primeiras tipologias estrutural-diferenciais compreendem municípios que apresentaram um crescimento do conjunto do Valor Adicionado no período, enquanto as três últimas compreendem os municípios que apresentaram um decréscimo do mesmo.
Os municípios das três primeiras tipologias estrutural-diferenciais cresceram em função das seguintes características:
Os da tipologia estrutural-diferencial 1 dispõem de uma estrutura produtiva diversificada e presença de setores de rápido crescimento a nível local.
Os da tipologia estrutural-diferencial 2 apresentam uma estrutura produtiva diversificada e presença de setores de lento crescimento a nível local, mas os efeitos da estrutura produtiva diversificada superaram os efeitos causados pelos setores de lento crescimento.
Os municípios da tipologia estrutural-diferencial 3 apresentaram uma estrutura produtiva mais especializada e presença de setores de rápido crescimento a nível local, mas os efeitos dos sectores de rápido crescimento superaram os efeitos decorrentes da estrutura produtiva mais especializada.
Por sua vez, os municípios das três últimas tipologias estrutural-diferenciais decresceram em razão dos seguintes fatores:
Os da tipologia estrutural-diferencial 4 dispõem de uma estrutura produtiva especializada e presença de sectores de rápido crescimento a nível local, mas os efeitos da estrutura produtiva especializada superaram os efeitos da presença dos setores de rápido crescimento.
Os da tipologia estrutural-diferencial 5, por sua vez, dispõem de uma estrutura produtiva diversificada e presença de setores de lento crescimento a nível local, mas os efeitos dos setores de lento crescimento superaram os efeitos da estrutura produtiva diversificada.
Os da tipologia estrutural-diferencial 6 dispõem de uma estrutura produtiva especializada e presença de setores de lento crescimento a nível local.
Para o Brasil, no período considerado, se constata que a grande maioria dos municípios apresenta decréscimo dos Valores Adicionados dos setores de atividades produtivas. São poucos aqueles que apresentaram crescimento de Valores Adicionados. Porém, ao mesmo tempo se constata que a tipologia estrutural-diferencial 5 é a predominante, na qual os municípios dispõem de uma estrutura produtiva diversificada, ainda que haja decréscimo dos Valores Adicionados setoriais pela presença de setores de lento crescimento a nível local. E se isso é um requisito prévio para impulsionar um processo de reorganização espacial das atividades produtivas, com vista a lograr a manutenção de padrões espaciais considerados desejáveis e reforçar as tendências satisfatória de ocupação e uso territorial, e simultaneamente, alterar os padrões indesejáveis e reverter as tendências perniciosas, é possível afirmar que a maioria dos municípios apresenta as precondições – sempre buscadas – de uma base produtiva diversificada, em que se há de dinamizar e integrar setores a nível “inter e intra municipal”, de maneira a criar e integrar territórios, com base em suas potencialidades locais, como forma de reordenar o território. Ou seja, compreende-se que a diversificação produtiva setorial é um ponto forte com que contam os municípios para que se convertam em territórios potencialmente competitivos, com condição de oferecer apoio a um processo de ordenamento territorial.
A partir de uma perspectiva de médio prazo, a reversão dos setores de lento crescimento em setores de rápido crescimento, no contexto de uma estrutura produtiva diversificada, pode ser mais factível de realizar do que a transformação de uma base produtiva especializada em diversificada, ainda no contexto da presença de setores de rápido crescimento. Assim, a predominância da tipologia estrutural-diferencial 5 pode ser vista como um ponto forte, sobre tudo para a colocação em ação de estratégias de desenvolvimento local e regional como instrumentos de um processo que pretende reverter padrões de ocupação e uso territorial.
3. Planejamento estratégico do desenvolvimento local e regional e ordenamento territorial
O objetivo do presente estudo é um esforço para demonstrar a hipótese de que o planejamento estratégico do desenvolvimento local e regional é um instrumento para uma política de ordenamento territorial. Para isso, partiremos de um conceito geral de desenvolvimento local e regional e seus principais elementos (tal como apresentados em Silva, 2005), e os confrontaremos com os elementos integrantes e constitutivos de uma política de ordenamento territorial.
A questão central do ordenamento territorial está na identificação da distribuição espacial resultante das atividades produtiva e da população ao redor das mesmas. A distribuição de uma determinada atividade é consideravelmente influenciada pela localização de outras atividades. Não é provável que as diferentes atividades produtivas se distribuam no território da mesma maneira, nem de acordo com os mesmo princípios. Certas atividades procuram una localização mais próxima de seus mercados, enquanto outras, devido a sua natureza, irão se concentrar em áreas restritas e, muitas vezes, remotas do território. Conseqüentemente, impõem padrões de ocupação e de interação espacial específicos, que determinam uma forma de organização territorial.
Mas essa forma de organização territorial nem sempre leva ao desenvolvimento das potencialidades das distintas partes do conjunto de um país, nem propiciam a especialização nos setores produtivos mais dinâmicos ou com possibilidades de inserção nos mercados nacionais e internacionais. Em geral, as iniciativas de ordenamento territorial seguem dois cursos distintos, porém paralelos e que não se excluem mutuamente. Primeiro, iniciar um processo de ordenamento territorial para reverter um padrão de organização existente. Em segundo, conduzir um processo de ordenamento territorial para lograr uma organização espacial que promova ou que potencialize o desenvolvimento. Porém, o que acontece é que, muitas vezes, ações tipicamente territoriais, que têm reflexos diretos sobre o território, passam despercebidas, sendo vistas mais como ações setoriais, enquanto que ações de índole setorial, muitas vezes são vistas como territoriais. Assim, deve-se distinguir entre as propostas e ações que são eminentemente territoriais e as que são de natureza setorial (ver Hermansen, 1977). Partiremos de uma síntese do desenvolvimento local e regional, passando aos elementos de uma política de ordenamento territorial e concluiremos com uma confrontação entre os elementos de ambos.
3.1 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Local e Regional, seus elementos e seus pressupostos
Conceito de Desenvolvimento Local e Regional
O desenvolvimento local e regional é a execução de um conjunto de ações para explorar as potencialidades endógenas visando alterar a realidade local regional, por intermédio de transformações de seu aparato produtivo.
Para que sua execução seja factível, será necessário desenvolver ou criar habilidades territorialmente latentes, para que os territórios possam especializar-se em setores que tenham possibilidades de inserção internacional, mas também, e isso é significativo para o caso do Brasil, de inserção nacional.
Iniciativas desta natureza muitas vezes já estão em curso, porém, fora de uma perspectiva deliberada e consciente dos resultados desse processo, isto é, se desenvolvem ações de caráter tipicamente territorial sem levar isso em conta. Em outras palavras, se desenvolvem mais como conjuntos de ações setoriais, sem uma preocupação ou referência direta ao território. Porém, mesmo assim, tais ações têm um reflexo claro sobre o território, anda que, na maioria dos casos, imperceptível aos atores que as executam.
Objetivo do Desenvolvimento Local e Regional
O objetivo do desenvolvimento local e regional é a transformação dos sistemas produtivos locais, o incremento da produção, a geração de emprego e a melhoria da qualidade de vida da população.
Base do Desenvolvimento Local e Regional
A base do desenvolvimento local e regional são os territórios capazes de “aprender”, isto é, territórios capazes de se adaptarem às transformações da estrutura produtiva mundial, com base no conhecimento e suas aplicações ao setor terciário avançado, à indústria de alta tecnologia e/ou à agricultura comercial.
Isso significa que os territórios são entendidos como a base cultural de sistemas de empresas que desenvolvem capacidades competitivas com a colaboração de seu entorno, e tal concepção é mais ampla que uma estratégia isolada de fomento isolada às pequenas empresas.
Parâmetros do Desenvolvimento Local e Regional
As políticas de desenvolvimento produtivo devem ter uma forte aproximação territorial, no que se refere aos sistemas locais de empresas. A construção de capacidades competitivas pode vincular-se às políticas territoriais e, mais precisamente, ao desenvolvimento de uma cultura territorial que integre os sistemas locais de empresas e que auxilie a superar a situação de grande estagnação e deterioração dos territórios mais atrasados.
Requisitos para o Desenvolvimento Local e Regional
Para o pleno desenvolvimento local e regional é necessária a criação de um entorno favorável para tanto. Esse entorno favorável compreende o desenvolvimento de lideranças, capazes de ativar e canalizar as forças sociais a favor de um projeto de desenvolvimento comum; a articulação público-privado e de impulso à capacidade associativa; o fomento produtivo e o impulso ao desenvolvimento dos planos “meso econômico” e “micro econômico” da competitividade sistêmica.
Na construção de territórios competitivos e inovadores deve-se procurar aproveitar os recursos endógenos, propiciando a associação e a articulação “público/social/privada” com vistas a agilizar os processos produtivos. Os planos “meso econômico” e “micro econômico” adquirem maior sentido no âmbito territorial e, à medida que eles não consigam se fortalecer, suas possibilidades de êxito diminuem. A idéia de que os territórios são os que competem adquire cada vez mais sentido, mesmo quando eles se encontram desigualmente preparados para o desempenho dessa tarefa.
Características dos Territórios no Processo de Desenvolvimento Local e Regional
Nem todos os territórios estão igualmente preparados para enfrentar os processos de abertura e globalização. Há grandes disparidades territoriais que sugerem diferentes tipos de intervenção em termos de políticas públicas locais. As capacidades técnicas e de liderança dos governos “sub nacionais” – locais e intermediários – são desiguais. (No caso do Brasil, governos locais se referem aos governos municipais e governos intermediários aos governos dos estados federados). A lógica do desenvolvimento integral e, em particular, do apoio aos processos de desenvolvimento produtivo não está plenamente incorporada na agenda de os governos “sub nacionais”. A descentralização deve, necessariamente, acompanhar os processos de desenvolvimento “sub nacionais”, sendo necessários esforços adicionais para também descentralizar os instrumentos de fomento produtivo e de desenvolvimento empresarial.
3.2 Política de ordenamento territorial, seus elementos e seus pressupostos
Conceito de Ordenamento Territorial
Por ordenamento territorial se entende a forma de distribuição da população e das atividades produtivas no território nacional em um momento futuro, de uma forma diferente da atual. Baseia-se em uma análise prospectiva e localizada de longo prazo, que busca a melhoria coerente do meio ambiente onde se desenvolvem as atividades humanas, a integridade do território e a soberania nacional (ver Couto e Silva, 1981).
Objetivo do Ordenamento Territorial
O objetivo do ordenamento territorial é alcançar uma estrutura espacial adequada para promover e sustentar um padrão de ocupação do território que leve em conta as restrições ambientais, a saturação urbano-metropolitana e os vazios demográficos e produtivos, para lograr a coesão territorial do país, a integração nacional entre suas regiões, do ponto de vista interno, e a integração com os países do continente, fronteiriços ou não, tendo como parâmetros a soberania nacional e a integridade do território nacional.
Base do Ordenamento Territorial
A forma como se organizam territorialmente os recursos e as atividades mais susceptíveis à mobilidade, frente aos caracterizados pela maior dependência de localização, condiciona o desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo em que este condiciona a referida forma de organização.
As atividades não se distribuem uniformemente no território, mas de maneira concentrada. Esse processo de concentração pode contribuir para o entendimento dos “sistemas territoriais”, uma vez que os pontos (centros ou pólos) de concentração, por seu dinamismo e por sua capacidade de difusão, que lhes são características, e pela forma como se organizam, irão operar como rede de apoio “intra regional” e como sistema articulador “inter regional”, condicionando o processo de ordenamento territorial.
Desses “sistemas territoriais” deriva a rede urbana, organizada como um sistema que não é autônomo, uma vez que a importância de qualquer um dos seus elementos (centro) se encontra sob a dependência da região que o envolve. A região se torna dependente da capacidade funcional dos seus centros e da forma como desempenham o seu papel (ou seja, das suas funções). Os “sistemas territoriais” deverão considerar os sistemas de centros – em general, denominados rede urbana ou sistema urbano, uma vez que estes integram a cada um daqueles.
Parâmetros do Ordenamento Territorial
Forças inerentes ao processo de desenvolvimento impulsionam, condicionam, incentivam e, em última instância, forçam a aglomeração de atividades e de população, resultando em um desequilíbrio entre áreas geográficas. Essa tendência à aglomeração em certas áreas ou centros é algo inerente ao jogo das forças econômicas e das interações entre atores sociais, no processo de desenvolvimento.
Os padrões de ocupação e uso não se distribuem igualmente no tempo e no espaço. Contudo, esses padrões influirão sobre os diversos mecanismos de reação do meio, com suas restrições as formas de ocupação territorial atuais, seja no sentido de mantê-los, seja no sentido de alterá-los.
Requisitos para o Ordenamento Territorial
O ordenamento territorial é uma ação deliberada de modificar a forma atual de distribuição das atividades produtivas e da população no território. Além de ter uma imagem-objetivo de qual seria a sua distribuição desejável, é necessário que se tenha clareza das formas atuais de distribuição, de suas causas, de como estas atuaram ao longo do tempo e quais são as suas tendências.
As ações de ordenamento territorial não se restringem aos fenômenos urbanos, metropolitanos e regionais, mas sim envolvem também decisões de investimentos em infra-estrutura e logística, estratégias de integração do espaço rural e medidas de preservação ambiental.
Características dos Territórios no Processo de Ordenamento Territorial
Em geral, os territórios, por mais diferentes que sejam, apresentam uma destas situações. Em alguns deles (e apenas em alguns) existem processos de desenvolvimento que causam uma série de desequilíbrios pelo surgimento e desaparição de aditividades dinâmicas. Ou, nos territórios restantes, os fenômenos, causados a partir dos primeiros se refletem nestes de modo negativo.
Em alguns poucos territórios, existem processos de polarização geográfica, isto é, a estrutura territorial altera-se pelo surgimento e desaparição (ou perda de funções e de dinamismo) de centros urbanos que geram forças de atração e difusão sobre sua área de influencia mais imediata. Dependendo da posição espacial relativa dos demais territórios, estes sofrem as conseqüências (boas e más) do surgimento e desaparição dessas forças de atração e difusão.
Caso se trate de um território vizinho com potencial menor, o surgimento de tais forças em outro território pode ter conseqüências negativas, pois inibem seu desenvolvimento, enquanto que com a desaparição delas, o território de menor potencialidade pode desenvolver suas próprias forças.
Caso se trate de um território fortemente vinculado ao de maior potencialidade, o surgimento das forças de atração e difusão se manifestam positivamente nele, pelos enlaces complementares entre as atividades, fazendo com que ele se beneficie de tal surgimento, e desenvolva seus potenciais. Da mesma forma, com o desaparecimento dessas forças, no território em questão ocorrerá uma perda de dinamismo.
3.3 Planejamento estratégico do desenvolvimento local e regional e ordenamento territorial
Neste estudo se procura demonstrar que o planejamento estratégico do desenvolvimento local regional é um instrumento para o processo de ordenamento territorial. Ou seja, como, ao planejar ações de desenvolvimento local e regional, se pode influenciar sobre a reorganização territorial futura, e, no sentido contrário, como o planejamento de ações de ordenação do território pode, por sua vez, influir no processo de desenvolvimento local e regional. Entretanto, a partir deste ponto de vista, torna-se necessário determinar quais são os aspectos relevantes, em um processo de desenvolvimento local e regional para o ordenamento territorial. Vamos considerar apenas os que dizem respeito à dinamização do aparato produtivo de certas partes do território.
A problemática resume-se em estabelecer o nível territorial mais adequado para identificar o potencial de desenvolvimento local e regional que contribua ao processo de reorganização da ocupação e uso territorial, por meio de uma política de ordenamento territorial, entendido este último como a forma de distribuição da população e das atividades produtivas no território nacional em um momento futuro, de uma forma diferente da atual.
Contudo, além destas características que conferem especificidade a diferentes partes do território brasileiro, existem elementos que, constatou-se, são comuns à sua totalidade. Primeiramente, com exceção da Amazônia Ocidental, o território dispõe de uma rede de cidades formada por sistemas urbanos de centralidade média (mais uma vez, ver Mapa-1). Em segundo lugar, do ponto de vista da população, não há predominância de uma tipologia territorial demográfica, quer dizer, os municípios receptores e expulsores de população e os que tendem à urbanização e à ruralização, estão disseminados por todo o território, sem predominância e sem concentração muito acentuada de um ou outro (novamente, ver Mapa-2). Finalmente, ainda que o padrão estrutural-diferencial predominante na maioria dos municípios brasileiros seja de uma estrutura produtiva diversificada e presença de setores de lento crescimento a nível local, com os efeitos dos setores de lento crescimento superando os efeitos de uma estrutura produtiva diversificada, na realidade, há uma dispersão dos demais tipos estrutural-diferencial, ainda que com uma escassa presença dos tipos que reapresentam crescimento do Valor Adicionado setorial no período considerado (ver Mapa-3).
Mapa 3: Tipologia estrutural – diferencial (1999 – 2003)
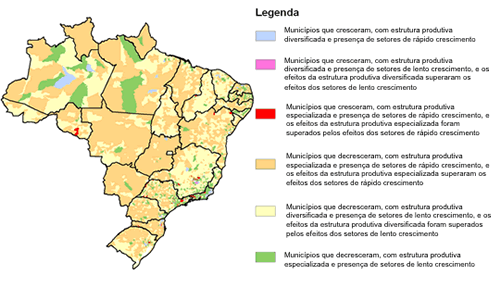
3.4 Estratégia de Ordenamento Territorial
Frente a esse quadro no Brasil, descrito de forma mais que geral, se coloca a problemática do ordenamento territorial brasileiro, como a identificação de uma distribuição espacial da população e das atividades produtivas que desconcentrem a região costeira, o sul e o sudeste do país, assegure a integração do semi-árido da Região Nordeste, integrem o centro do Brasil e incorpore a Região Amazônica, sob a perspectiva da preservação ambiental, da manutenção da soberana e integridade do território nacional e da integração com os países do continente.
E é aqui que se dá a vinculação do ordenamento territorial com planejamento estratégico do desenvolvimento local regional. As ações de ordenamento territorial são de diversas índoles, tais como, de infra-estrutura, de gestão e coordenação e de natureza econômica. O conjunto de tais ações no território tem como meta a redistribuição da população e das atividades produtivas, de maneira a assegurar a integridade territorial, a soberania nacional e a justiça social, de modo harmônico com a utilização sustentável dos recursos naturais.
No presente caso, estamos colocando com mais ênfase no aspecto econômico, visto este como um elemento estruturador do território. E, neste ponto, situa-se o enlace entre o planejamento estratégico do desenvolvimento local regional e o ordenamento territorial. Como foi explicitado acima, o desenvolvimento local regional é a execução de um conjunto de ações que procuram explorar as potencialidades endógenas para modificar a realidade local regional, por intermédio de transformações de seu aparato produtivo. A política de ordenamento territorial é uma ação controladora da evolução sócio-econômica no território, para que se atinja uma determinada forma de organização espacial distinta da atual.
Para a execução dessas ações que procuram explorar as potencialidades endógenas para alterar a realidade local regional, é necessário que se desenvolvam habilidades territorialmente latentes, ou então, criá-las, para que os territórios possam especializar-se em setores que tenham possibilidades de inserção internacional e nacional.
As mudanças preconizadas por uma política de ordenamento territorial devem começar por iniciativas que se originem em determinados pontos do conjunto do território nacional, que apresentem capacidade de, a partir de ações neles desenvolvidas, por em marcha uma sucessão de alterações na estrutura territorial vigente, em direção a uma nova configuração de ocupação e uso do território, distinta da atual.
Os aspectos da configuração atual, considerados indesejáveis, são os processos de ocupação territorial caracterizados por padrões de distribuição desigual da população e das atividades, cujo resultado, na zona costeira e nas Regiões Sul e Sudeste, é a existência de metrópoles congestionadas, uma rede urbana integrada com padrões produtivos diversificados, mas com decréscimo econômico, com integração interna e externa.
Na Região Nordeste, principalmente no semi-árido, há uma ocupação do território em um padrão de pobreza e precariedade de serviços básicos, ausência de atividades produtivas dinâmicas e comprometimento ambiental, a pesar da existência de uma rede urbana estruturada. É integrada com a zona costeira e com a Região Sudeste.
Na Região Centro-Oeste, do ponto de vista da rede urbana, existe um vazio com centros isolados, com conexões muito débeis entre eles e um padrão produtivo especializado, baseado no setor agropecuário. Esta Região apresenta baixa integração interna, sendo mais integrada com a Região Sudeste e, em menor grau, com a Região Sul.
A Região Amazônica tem um baixo nível de integração e ocupação territorial, com uma rede urbana incipiente próxima do padrão de primazia urbana, onde seus centros, independentemente de suas dimensões, estão distantes uns dos outros e cercados por grandes vazios. As redes de transportes são incipientes. O meio ambiente é frágil, e afora a Zona Franca de Manaus, a região não apresenta expressão produtiva, porém, apresenta potencial, a partir de práticas de manejo sustentável, graças à diversidade de sua base de recursos naturais. É pouco integrada internamente e com as demais regiões.
Para reverte esse quadro, uma opção é a estratégia territorial baseada em sistemas urbanos de centralidade média. No caso do Brasil, a rede urbana de cidades médias (com exceção da Amazônia Ocidental) praticamente articula todo o território. Primeiramente, integra as áreas mais próximas, constituindo verdadeiros sistemas territoriais. Em segundo lugar, dada sua difusão ao longo e ao largo do país, articula suas diversas partes, e mesmo que isso não ocorra atualmente, de modo uniforme, com todos os sistemas urbanos de centralidade média, potencialmente eles detêm elementos críticos para fazê-lo.
Do ponto de vista do desenvolvimento local regional, os centros médios são os que apresentam potencialidades endógenas para alterar a realidade local regional e um aparato produtivo que pode ser adaptado para isso. Por sua interação sistêmica, é nos sistemas territoriais de centros médios que se pode identificar e desenvolver as habilidades para especialização em setores com potencialidade de inserção nos mercados nacionais e internacionais. Ademais, os sistemas urbanos de centralidade média podem desenvolver capacidades competitivas entre os integrantes de seu entorno, e a partir disso, atuarem deliberadamente com base em uma cultura territorial integrada por um sistema de empresas locais, que apresenta potencialidade para impulsionar as empresas das áreas mais próximas e que se encontram em uma situação de estagnação e deterioro, de modo que supere essa situação. Graças ao fator contigüidade, os sistemas urbanos de centralidade média, integrados a centros de nível médio, apresentam uma forte vinculação entre si, por um processo de interação espacial, determinado e condicionado por relações de diversas índoles, sendo, então, mais fácil criar (quando não existe) o entorno favorável ao desenvolvimento local. Por sua interação, é mais factível construir territórios competitivos e inovadores, articulando e potencializando as relaciones reais que existem entre um centro médio e os municípios que lhe são subordinados, sendo a partir dele que se pode integrar os centros menores que gravitam ao seu redor, mas que não se articulam, necessariamente, entre si, diminuindo as disparidades territoriais entre eles e preparando-os para enfrentar os processos de abertura e globalização. Os processos de descentralização e de desconcentração são objetivos que dirigem todas as reflexões e discussões sobre a reorganização do território e sobre o ordenamento territorial. E tais processos são possíveis através dos centros de nível médio, que já detêm um umbral mínimo para assimilar e reter os impactos oriundos de centros e áreas maiores, e transmiti-los ao seu entorno mais imediato (ver Boisier, 1976).
Porém, à medida que a meta é identificar o vínculo entre o desenvolvimento local e regional e o ordenamento territorial, estas características dos sistemas urbanos de centralidade média são por demais genéricas, havendo necessidade de tipificá-los com mais exatidão. Para tanto, se optou por uma metodologia que classifica os territórios em “ganhadores” e “perdedores”, através de uma interessante comparação entre taxa de crescimento e valores per capita dos respectivos territórios e do país como um todo (ver Silva, 2005).
Neste caso, mantendo a coerência com a análise da tipologia estrutural-diferencial para os municípios do Brasil (ver Mapa-3), se estabeleceu um processo de classificação baseado nos Valores Adicionados dos setores de atividades produtivas para os anos de 1999 e 2003, que permite tipificar aos sistemas urbanos de centralidade média. O processo consiste em comparar, para os municípios com nível de centralidade média (e somente para eles), suas respectivas taxas médias de crescimento do Valor Adicionado municipal, com a taxa média de crescimento do Valor Adicionado a nível nacional, para o período considerado. Os municípios que se situam acima deste valor serão aqueles que cresceram acima da média nacional, e são considerados os dinâmicos. Ao mesmo tempo, se estimou o Valor Adicionado per capita médio a nível, de tal forma que os municípios de centralidade média se classificaram, segundo apresentem o Valor Adicionado per capita médio municipal superior ou inferior à média nacional.
Das combinações (taxa média de crescimento do Valor Adicionado municipal acima ou taxa média de crescimento do Valor Adicionado municipal abaixo da taxa média de crescimento do Valor Adicionado a nível nacional / Valor Adicionado per capita médio municipal acima ou Valor Adicionado per capita médio municipal abaixo do Valor Adicionado per capita médio nacional) resultaram, por assim dizer, quatro padrões territoriais.
O primeiro padrão territorial está composto pelos municípios dinâmicos e com Valor Adicionado per capita médio alto, “potencialmente ganhadores”.
O segundo padrão territorial está formado pelos municípios dinâmicos e com Valor Adicionado per capita médio baixo, “potencialmente ganhadores”, em marcha.
O terceiro padrão territorial é integrado pelos municípios não dinâmicos e com Valor Adicionado per capita médio alto, “potencialmente perdedores”, em retrocesso.
E, finalmente, o quarto padrão territorial, no qual se situam os municípios não dinâmicos e com Valor Adicionado per capita médio baixo, “potencialmente perdedores”, estagnados.
Os municípios de nível de centralidade média configuram sistemas urbanos que apresentam potencialidades para a condução de um processo de desenvolvimento local e regional bem sucedido. Os demais municípios que integram esses territórios gravitam ao redor deles, recebendo os impactos que se originam neles ou passam por eles. Desta maneira, as estratégias de desenvolvimento local e regional abarcam, não somente os municípios médios, mas também os integrantes dos seus respectivos sistemas. Por isso, o padrão territorial de cada município médio será estendido aos municípios que compõem os seus respectivos sistemas urbanos.
3.5 Os territórios ganhadores e os territórios perdedores
Entretanto, os sistemas urbanos de centralidade média, embora estando dispersos por todo o território nacional e configurarem unidades territoriais integradas, apresentam heterogeneidades. Do ponto de vista dos movimentos de expulsão e recepção de população e das tendências à urbanização e “ruralização”, não há uma tipologia territorial demográfica predominante, nem a concentração de uma delas em alguma parte específica do território (conforme pode ser visto no Mapa-4). Os dados indicam que a tipologia territorial demográfica “receptores de população com tendência à urbanização” se concentra, basicamente, na Região Norte, isto é, onde a população total cresceu mais no período intercensitário, porém, esse crescimento foi superado pelo crescimento da população urbana. Estas tipologias territoriais demográficas são importantes para identificar os territórios estão recebendo e os que estão expulsando população, e se estas estão se situando em áreas urbanas ou em áreas rurais.
Mapa 4: Tipologia territorial demográfica dos sistemas urbanos de centralidade média
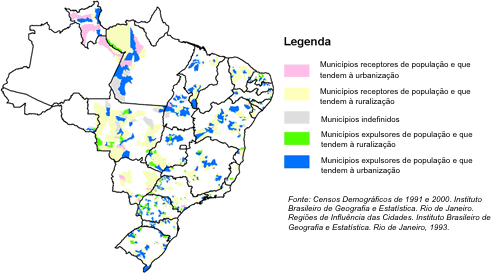
Com relação à tipologia estrutural-diferencial, com exceção de alguns poucos municípios dos sistemas urbanos de centralidade média que apresentaram situações extremas de crescimento do Valor Adicionado setorial (tipologia estrutural-diferencial 1, municípios com estrutura produtiva diversificada e presença de setores de rápido crescimento a nível local e tipologia estrutural-diferencial 3, municípios com estrutura produtiva mais especializada e presença de setores de rápido crescimento a nível local, porém os efeitos dos setores de rápido crescimento superaram os efeitos decorrentes da estrutura produtiva mais especializa e tipologia estrutural-diferencial 6, municípios que dispõem de uma estrutura produtiva especializada e presença de setores de lento crescimento a nível local), na grande maioria deles predominam a tipologia estrutural-diferencial 5, estrutura produtiva diversificada e presença de setores de lento crescimento a nível local, mas os efeitos dos setores de lento crescimento superaram os efeitos da estrutura produtiva diversificada, combinado com algumas situações da tipologia estrutural-diferencial 4, estrutura produtiva especializada e presença de sectores de rápido crescimento a nível local, porém os efeitos da estrutura produtiva especializada superaram os efeitos da presença dos sectores de rápido crescimento (conforme pode ser visto no Mapa-5). A relevância das tipologias estrutural-diferenciais neste estudo reside na identificação de territórios com estruturas produtivas especializadas o diversificadas e presencia de setores de rápido ou de lento crescimento.
Os sistemas urbanos de centralidade média no Brasil não apresentam o quarto padrão territorial, municípios não dinâmicos e com Valor Adicionado per capita médio baixo, “potencialmente perdedores”, estagnados. Contudo, os outros três padrões territoriais encontram-se quase igualmente distribuídos por todo o território brasileiro (conforme pode ser visto no Mapa-6). Os sistemas urbanos de centralidade média pertencentes ao primeiro padrão territorial (municípios dinâmicos e com Valor Adicionado per capita alto, “potencialmente ganhadores”) estão concentrados mais no sudeste, no sul e no centro do país. Os sistemas urbanos de centralidade média que pertencem ao segundo padrão territorial (municípios dinâmicos e com Valor Adicionado per capita baixo, “potencialmente ganhadores”, em marcha) mesmo presentes por todo o território nacional, se concentram mais na Região Norte e na Região Centro-Oeste. O terceiro padrão territorial (municípios não dinâmicos e com Valor Adicionado per capita baixo, “potencialmente perdedores”, em retrocesso), também presentes por todo o país, se concentram fortemente na Região Nordeste.
Mapa 5: Tipologia estrutural – diferencial dos sistemas urbanos de centralidade média
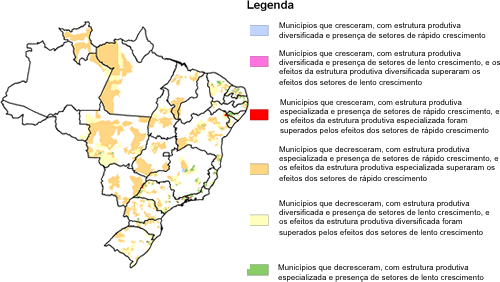
E, neste ponto, se dá o encontro entre o ordenamento territorial e o planejamento estratégico do desenvolvimento local e regional. O ordenamento territorial busca novos padrões de ocupação dos territórios do país, propondo a manutenção das formas de ocupação consideradas satisfatórias e a alteração daquelas consideradas inadequadas.
Deve-se, contudo, ressaltar que neste estudo não cabe um diagnóstico exaustivo dos padrões
atuais de ocupação e uso do território e das suas principais tendências no Brasil. Entretanto, em um primeiro momento, de forma bastante sucinta (e preliminar), os principais problemas da organização do espaço brasileiro, e as formas de solucioná-los, com base nos princípios do desenvolvimento local e regional, e optando por una estratégia de centros urbanos de nível médio, são:
- Processo de ocupação territorial caracterizado por forte ocupação demográfica e de atividades na orla marítima.
Reverter essa situação pode ser desejável. A zona costeira do Brasil está formada por sistemas urbanos de centralidade média, mas, com exceção do sul do país, que apresenta o padrão territorial “potencialmente ganhador”, o restante apresenta o padrão territorial “potencialmente perdedor”, em retrocesso. Contudo, continua sendo uma área saturada na maior parte da sua extensão.
Muito embora possa apresentar níveis que ultrapassem os patamares mínimos para alterar seus sistemas produtivos, pode não ser desejável fazê-lo, uma vez que, do ponto de vista demográfico, esta parte do território brasileiro apresenta municípios receptores de população com tendência à urbanização e a principal concentração de municípios que apresentam uma estrutura produtiva especializada e presença de sectores de lento crescimento (ver Mapa-2 e Mapa-3).
Se o que se deseja é a reversão das tendências em curso, as ações de desenvolvimento local e regional não deveriam ser propostas para a área costeira do Brasil.
- Processo de ocupação territorial caracterizado por forte ocupação demográfica e de atividades, com uma rede urbana integrada e existência de atividades produtivas mais dinâmicas no sul e no sudeste.
Esta parte do país apresenta duas fortes tendências demográficas. A primeira, nos extremos da área considerada – sul do estado de Mina Gerais e estado de São Paulo, de um lado, e a extremidade sul do estado de Rio Grande do Sul, por outro – com o predomínio de municípios receptores de população e com tendência à “ruralização”.
A segunda está formada pela área intermediária – os estados do Paraná e de Santa Catarina e a parte central e a parte norte do estado do Rio Grande do Sul – com uma tendência marcadamente expulsora de população e urbanização. Em todo o conjunto deste território, os municípios também apresentam uma estrutura produtiva especializada e presença de setores de lento crescimento (ver Mapa-2 e Mapa-3).
Esta parte do país também apresenta diversos sistemas urbanos de centralidade média, a maioria dos quais “potencialmente ganhadores” e “em marcha”, com alguns poucos “potencialmente perdedores, em retrocesso”.
Mais do que em outras áreas, nesta são desenvolvidos conjuntos de ações setoriais sem preocupação ou referência direta ao território, e onde elas têm um reflexo mais claro sobre o mesmo, ainda que, na maioria dos casos, imperceptíveis aos atores que as executam.
Nos sistemas urbanos de centros médios desta parte do Brasil, as políticas de desenvolvimento produtivo devem buscar mais a construção de capacidades competitivas que possam vincular-se, de fato, às políticas territoriais, para reforçar o desenvolvimento de uma cultura territorial para a superação da estagnação e deterioração dos territórios mais atrasados. Em outros termos, dever-se-ia buscar mais a integração “intra regional” nestas áreas.
Mapa 6: Sistemas urbanos de centralidade média ganhadores e perdedores (1999 – 2003)
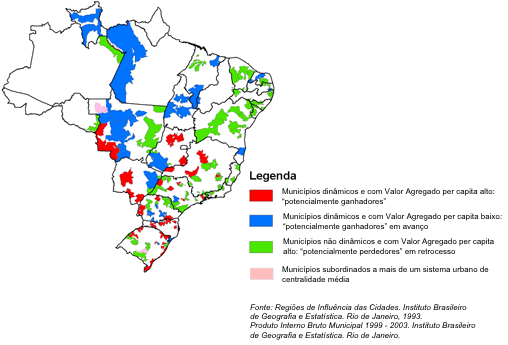
- Existência de áreas metropolitanas congestionadas.
Estas áreas se constituem em problemas, seja do ponto de vista territorial, seja do ponto de vista setorial. Requerem uma estratégia de intervenção própria, e não são objeto das ações de desenvolvimento local e regional (ao menos, na forma como este é entendido aqui).
Entretanto, com exceção da Região Metropolitana de Belém no estado do Pará, na Região Amazônica, todas as demais Regiões Metropolitanas estão circundadas por sistemas urbanos de centralidade média, e dessa maneira, estes podem converte-se em “zonas de “amortecimento” das mesmas. E, também sem exceção, estas áreas estão cercadas por sistemas urbanos “potencialmente ganhadores” e “potencialmente ganhadores” em marcha. Isso significa que há necessidade de se desenvolver estratégias locais e regionais diferenciadas, para cada uma das diversas situações apresentadas pelos sistemas urbanos de centralidade média que circundam as áreas metropolitanas.
Para os sistemas urbanos de centralidade média “potencialmente ganhadores” em torno de uma área metropolitana, é de fundamental importância o desenvolvimento da capacidade de aprender e de se adaptar às transformações da estrutura produtiva mundial, com base no conhecimento e sua aplicação ao setor terciário avançado e à indústria de alta tecnologia. E nesses sistemas urbanos, essas capacidades competitivas devem ser desenvolvidas com a colaboração do seu entorno – a Região Metropolitana ao redor dele.
Para os sistemas urbanos de centralidade média “potencialmente ganhadores” em marcha, ao redor de uma Região Metropolitana, é necessário criar um entorno favorável ao desenvolvimento local, mobilizar ou desenvolver lideranças locais, capazes de ativar e canalizar as forças sociais a favor de um projeto de desenvolvimento comum vinculado ao processo de desenvolvimento da área metropolitana, internalizando os benefícios que extrapolam os municípios que a compõem, reforçando, assim, a integração entre as empresas locais e as empresas metropolitanas em um sistema único, que atue no sentido de superar e reverter a situação de estagnação desses sistemas urbanos (ver Mapa-1, Mapa-2, Mapa-3 e Mapa-6).
- No semiárido nordestino, o território está ocupado com base em um padrão de pobreza e precariedade de serviços básicos, ausência de atividades produtivas dinâmicas e comprometimento ambiental, apesar da existência de uma rede urbana estruturada, integrada internamente e com sua zona costeira e com a Região Sudeste.
A Região Nordeste conta com uma ampla e extensiva rede de sistemas urbanos de centralidade média. Porém, com exceção de três “potencialmente ganhadores” em marcha, os demais são do tipo “potencialmente perdedores” em retrocesso”. Para eles, serão necessárias todas as ações propostas na estratégia de desenvolvimento local e regional, para a reversão do quadro atual.
Na Região Nordeste, mais do que em outras, é necessário a execução de ações para explorar as potencialidades endógenas, que permitam modificar a realidade local regional, e assim, transformar o aparato produtivo, explicitar, criar ou desenvolver potencialidades locais, e especializar os diversos municípios, de cada sistema urbano de centralidade média da Região Nordeste, na base cultural de sistemas de empresas que desenvolvem capacidades competitivas com a colaboração de seu entorno.
Muito mais do que vinculações com a zona costeira, com o sul e o sudeste, é imperativo reforçar a integração entre os sistemas urbanos de centralidade média da própria Região Nordeste, e que se encontram próximos entre si, para aproveitar os recursos endógenos, propiciando a associação e a articulação público/social/privada, com o objetivo de flexibilizar os processos produtivos internos de cada sistema urbano.
- Na Região Centro-Oeste do Brasil, urbana, existe um vazio urbano, com centros isolados, com débeis conexões entre eles e um padrão produtivo especializado, baseado no sector agropecuário, além de apresentar baixa integração interna, sendo mais integrada com o Sul e com o Sudeste.
A Região Centro-Oeste dispõe de uma forte rede de sistemas urbanos de centralidade média. Com exceção de alguns poucos “potencialmente perdedores” em retrocesso, predominam sistemas urbanos de centros médios “potencialmente ganhadores” e “potencialmente ganhadores”, em marcha. As ações para esta parte do território brasileiro devem procurar mais a integração e a articulação dos sistemas urbanos médios existentes, através do desenvolvimento de capacidades competitivas com a colaboração de seu entorno, compreendido aqui em dois sentidos. Primeiro, o entorno ao redor dos principais centros de nível médios, e em segundo, dos sistemas urbanos de centralidade média entre si.
É necessário estabelecer políticas territoriais que integrem os sistemas de empresas locais, principalmente entre os diversos níveis territoriais da região, e que essas políticas sejam mais do que ações setoriais sem uma preocupação ou referência direta ao território, porém que tenham um caráter tipicamente territorial, e levem este fator em conta. Para a superação do isolamento entre os centros, reforçar suas conexões e elevar a integração interna na região será necessário desenvolver ações com um claro reflexo sobre o território, de maneira clara à maioria dos atores que as executam. A criação do entorno favorável ao desenvolvimento local pode ser expressada pela preparação dos territórios para enfrentar os processos de abertura e globalização, por intermédio da adoção de processos de descentralização que acompanhem os processos de desenvolvimento a nível local e de esforços adicionais para descentralizar os instrumentos de fomento produtivo e desenvolvimento empresarial.
- A Região Amazônica tem um baixo nível de integração e ocupação territorial, com uma rede urbana incipiente próxima do padrão de primazia urbana, onde os seus centros, independentemente de quais sejam suas dimensões, estão distantes uns dos outros e cercados por grandes vazios; as redes de transportes são incipientes; o meio ambiente é frágil, e afora a Zona Franca de Manaus, a região não apresenta expressão produtiva, porém, apresenta potencial, a partir de práticas de manejos sustentável, graças à diversidade de sua base de recursos naturais; é pouco integrada internamente e com as demais regiões.
A Região Amazônica apresenta uma situação muito delicada e especial. Inicialmente, se encontra relativamente isolada do resto do país. Está cercada por “áreas de transição” (o estado do Mato Grosso, o estado do Tocantins e o estado do Maranhão). Dispõe de dois sistemas urbanos de centralidade média, conquanto apresente diversos municípios receptores de população com tendência à urbanização. Apresenta partes do território sem tendências à urbanização, mesmo sendo áreas expulsoras de população. Para a Região Amazônica, a integração deve estar baseada em processos “intra regionais”, mais que “inter regionais”, de modo que preserve o meio ambiente, os recursos e suas características sócio-culturais, típicas, especiais e únicas. As ações de desenvolvimento devem se caracterizar mais por processos intensivos e concentrados. Os esforços de integração devem procurar as habilidades territorialmente latentes, especializando-as em setores que desenvolvam capacidades competitivas com a colaboração de seu entorno mais imediato e que têm reflexos claros, não apenas sobre o território, senão também, sobre os recursos naturais, no sentido de preservá-los, assim como no sentido de incorporar o saber tradicional da região, principalmente, no que se refere ao manejo e exploração florestal. Mais do que ações que tenham um reflexo claro sobre o território, é necessário que os tenham sobre a base de recursos naturais de modo perceptível aos atores que as executam, para evitar a degradação, e mais do que isso, para poder controlá-la.
É necessário que se atue com cautela nesta Região. É provável que seja necessária uma concepção de desenvolvimento local e regional alternativa, assim como una política de ordenamento territorial própria para a Amazônia, baseada em suas potencialidades, mas também em suas fragilidades.
4. Conclusões
Do que foi visto, se pode concluir que é possível e necessária uma integração entre os pressupostos e princípios do planejamento estratégico do processo de desenvolvimento local e regional, tal como entendido neste estudo (baseados em outros estudos, referidos na Bibliografia e os pressupostos e princípios dos processos de ordenamento territorial.
Sucede-se que, em ambos os casos, mesmo que, em termos conceituais, exista certa clareza, isto é, se compreende o significado de cada um deles – ordenamento territorial e desenvolvimento local e regional – no momento da execução os caminhos a serem seguidos não apresentam essa mesma clareza. Isso é válido tanto para cada um deles considerado isoladamente, quanto na relação entre eles. Dito de outro modo, mesmo que haja compreensão a respeito da necessidade de, por exemplo, desencadear ações com vistas à desconcentração metropolitana e à dinamização dos centros urbanos de nível médio para reforçar a estrutura urbana e assegurar a integração do território nacional, não está claro como e com o que fazê-lo.
Da mesma forma, se está claro que é necessário desenvolver ou criar habilidades territorialmente latentes, para que os territórios possam especializar-se naqueles setores que apresentam possibilidades de inserção internacional, também não está muito claro o modo de fazê-lo. Alguns caminhos são apontados e outros sugeridos, porém permanece a questão de como realizá-lo
Sem dúvida, existem critérios sistemáticos e instrumentos, tanto para conduzir um processo de desconcentração metropolitana e dinamização dos centros urbanos de nível médio, quanto para desenvolver e criar habilidades territorialmente latentes e especializar territórios em setores que apresentam possibilidades de inserção internacional. Na realidade, há uma ampla gama de possibilidades de ação. Porém, não se tem segurança de que os objetivos pretendidos serão cumpridos e a metas atingidas.
E quando se tenta manejar simultaneamente o desenvolvimento local e regional e o ordenamento territorial, a questão se torna ainda mais complexa. Não se tem conhecimento, até o presente momento, de referencias sobre a relação entre os dois temas (pelo menos no idioma português) na forma proposta no título deste estudo, que este é um esforço original e inicial de abordá-los. E apesar de não haver condições para aprofundar e explorar mais as relações entre ambos, por não ser este o espaço nem o momento para tanto, todavia parece que as possibilidades de relacioná-los foram explicitadas.
A avaliação deste esforço, agora que está concluído, é que existe um amplo campo de possibilidades de análises teóricas e de aplicações práticas envolvendo as relações recíprocas entre os dois temas, e em duas direções. Existe um amplo espaço para explorar o que o planejamento estratégico do desenvolvimento local e regional poderia aportar aos processos de ordenamento territorial e com o que este poderia enriquecer os processos do planejamento estratégico do desenvolvimento local e regional. E acreditamos que a melhor forma de comprovar isso será através da aplicação prática dos conceitos, idéias, princípios e instrumentos de cada um deles a casos reais, que sirvam para o aperfeiçoamento analítico e a elucidação de aplicações a situações concretas, e seria isto que se deverá intentar quando da formulação de uma política de ordenamento territorial para Brasil.
Nota:
Contate o autor: [email protected]
Bibliografía
- Boisier, Sergio (1976): DISEÑO DE PLANES REGIONALES – Métodos y Técnicas de Análisis Regional. Madrid, Colegio Oficial de Ingenieros de Canales, Caminos y Puertos.
- Boisier, Sergio (1980): TÉCNICAS DE ANÁLISIS REGIONAL CON INFORMACIÓN LIMITADA. Santiago de Chile, Cuadernos del ILPES, nº 27.
- Couto e Silva, Golbery (1981): CONJUNTURA NACIONAL. O PODER EXECUTIVO & GEOPOLÍTCA DO BRASIL. Rio de Janeiro, Livraria José Olympio Editora.
- Derycke, Pierre-Henri (1983): ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN URBANAS. Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local.
- Hermansen, Tormond (1977): POLOS Y CENTROS DE CRECIMIENTO EN EL DESARROLLO NACIONAL Y REGIONAL – Elementos de un marco teórico, in Kuklinski, Antoni R., Polos y Centros de Crecimiento en la Planificación Regional. México, Fondo de Cultura Económica.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1991): CENSO DEMOGRÁFICO DE 1991. Rio de Janeiro, IBGE.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1993): REGIÕES DE INFLUÊNCIA DAS CIDADES. Rio de Janeiro, IBGE.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1999): PRODUTO INTERNO BRUTO MUNICIPAL – 1999. Rio de Janeiro, IBGE.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2000): CENSO DEMOGRÁFICO DE 2000. Rio de Janeiro, IBGE.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2003): PRODUTO INTERNO BRUTO MUNICIPAL – 2003. Rio de Janeiro, IBGE.
- Silva Lira, Iván (2005): DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y COMPETITIVIDAD TERRITORIAL EN AMÉRICA LATINA, in, Revista de la CEPAL nº 85, Abril de 2005.
- Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Naciones Unidas
Datos para citar este artículo:
Revista Vinculando. (2010). Planejamento estratégico do desenvolvimento local regional e ordenamento territorial no Brasil: frustração ou sonho possível?. Revista Vinculando, 8(2). https://vinculando.org/articulos/sociedad_america_latina/brasil_planejamento_estrategico_desenvolvimento_local_regional.html
Ncriação dice
Tem que ter politicas de ordenamento territorial.